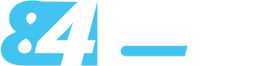A vida, dizia Forrest Gump (ou talvez fosse o roteirista, ou o publicitário, ou o algoritmo) é como uma caixa de bombons. Bonita, sortida, cheia de promessas… e, claro, feita pra acabar. O lance é que a maioria das pessoas come o mesmo bombom todo dia achando que está provando o destino.
Forrest é o sujeito ideal pra qualquer governo, empresa ou religião: não pensa, apenas executa. Um homem que ama sem entender, obedece sem questionar e, por alguma ironia cósmica, é premiado por isso. É o santo padroeiro do RH. O símbolo máximo do “colaborador do mês”. Se Freud estivesse vivo, anotaria no prontuário: caso grave de sublimação bem-sucedida.
Jenny, por outro lado, é o sintoma. Aquela febre que aparece quando o corpo social tenta expulsar a repressão. Ela quer cantar, sentir, viver, em suma, existir por conta própria. E o filme, paternal como um moralista de província, trata logo de puni-la. Morre de liberdade. Ou, como diriam os psicanalistas, morre de desejo não domesticado.
Enquanto isso, Forrest prospera. Corre, obedece, corre mais. Corre do Vietnã, corre da dor, corre da dúvida. Corre tanto que vira metáfora nacional: o homem que não para pra pensar, porque pensar é tropeçar. E o sucesso, esse placebo de felicidade, sorri pra ele como um pai que finalmente viu o filho “se endireitar”.
Forrest Gump é o manual de instruções para sobreviver ao mundo moderno: mantenha-se limpo, leal e ligeiramente burro. A inteligência, como o cigarro, é um vício que encurta a vida. A dúvida, então, nem se fala dá insônia, úlcera e, às vezes, consciência política. Mas há um detalhe que o roteiro não esconde: a pena. A tal pena que abre e fecha o filme, flutuando no ar, linda e leve como uma metáfora de Instagram. A pena é Forrest sem rumo, sem motor, levada pelo vento dos outros. Só que ninguém pergunta quem sopra.
E nós, espectadores com diploma e boleto, adoramos isso. Queremos ser a pena, mas com Wi-Fi. Sonhamos em “deixar a vida nos levar”: desde que ela nos leve pro resort certo. A liberdade virou marketing de conformismo: a arte de se sentir especial enquanto faz exatamente o que mandam.
Se Freud tivesse visto o filme, talvez dissesse que Forrest é o triunfo do superego coletivo: o prazer em obedecer, a paz de quem não precisa desejar. E Jenny, coitada, é o retorno do recalcado, a pulsão que insiste em viver, mesmo sabendo que vai doer. A pena pousa. Sempre pousa. Porque o vento, esse grande diretor invisível, decide onde. E nós aplaudimos de pé, com lágrimas nos olhos, acreditando que assistimos a uma história de amor, quando na verdade foi uma sessão de hipnose.
Antes de citar a caixa de bombons como filosofia de vida, pergunte-se: você está escolhendo o sabor ou apenas mastigando o que te deram? Na vida, como no cinema, quem pensa demais não ganha o Oscar. Mas, pelo menos, ganha consciência. O que, convenhamos, é um prêmio que o vento nunca entrega.