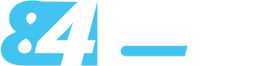Numa época em que até o cachorro tem plano odontológico e o aniversário de bebê reborn exige drone e telão de LED, é claro que o consumo quis virar espetáculo. E que espetáculo! Tem gente parcelando viagem para Dubai só pra postar uma foto com camelo alheio, enquanto outros alugam carro de luxo por hora apenas para filmar a porta abrindo em câmera lenta. Ostentar virou um tipo de fé. Um culto ao excesso, onde o altar é o feed e a oração é o close.
Numa época em que até o cachorro tem plano odontológico e o aniversário de bebê reborn exige drone e telão de LED, é claro que o consumo quis virar espetáculo. E que espetáculo! Tem gente parcelando viagem para Dubai só pra postar uma foto com camelo alheio, enquanto outros alugam carro de luxo por hora apenas para filmar a porta abrindo em câmera lenta. Ostentar virou um tipo de fé. Um culto ao excesso, onde o altar é o feed e a oração é o close.
Vai dizer que isto não é o auge do capitalismo performático: não basta ter, é preciso exibir — e com narrativa. Mostrar muito, de preferência com trilha sonora envolvente, filtro cinematográfico e legenda em inglês (com erro de concordância, claro, pra dar aquele toque de autenticidade global). Porque no espetáculo do consumo, o produto não é o que se compra — é quem assiste. A experiência não precisa ser boa, precisa parecer invejável. Não se trata mais de conforto, utilidade ou desejo genuíno. Trata-se de marcar território simbólico: olha onde estou, olha o que como, olha quem sou. A necessidade virou coadjuvante, figurante mudo na cena principal. O que importa é o aplauso digital, o like convertido em validação emocional. A fome não está no prato — está nos olhos de quem assiste, faminto por pertencimento, roendo a autoestima à medida que desliza o dedo pela tela.
E aí eu te pergunto: Desde quando o guarda-roupa virou cofre, com peças que valem mais que um salário mínimo e etiquetas mais importantes que o caimento? Desde quando a sala de estar virou estúdio, com paredes instagramáveis, sofá de design e iluminação pensada para o selfie das 18h? Quando foi que o suco de caixinha perdeu pro drink defumado com gelo lapidado? Quando o tênis surrado passou a significar derrota, e a simplicidade virou sinônimo de fracasso? O que era cotidiano virou performance. A casa não é mais lar, é cenário. A refeição não é mais partilha, é post. A vida virou vitrine — e quem não tem nada pra mostrar é tratado como quem não tem nada pra ser.
É curioso — e trágico — perceber como o valor das coisas mudou de lugar. O que antes era vivido agora é roteirizado. Já não basta o prazer silencioso da conquista — aquele que dava sentido íntimo às vitórias, que preenchia por dentro sem precisar de aplauso. Hoje, se não virar conteúdo, não vale. Se não tiver trilha, filtro, enquadramento e legenda de autoajuda, é como se não tivesse acontecido. A felicidade virou campanha de engajamento. Tem gente mais preocupada em registrar um pôr do sol do que em vê-lo de verdade. Outros só relaxam na viagem depois de garantir os stories, o reels, o carrossel com frase do Bukowski fora de contexto. A espontaneidade foi substituída pelo cronograma editorial. A alegria, pela ansiedade do engajamento. O afeto, por emojis estrategicamente distribuídos.
Nesse teatro do exagero, tudo é feito para ser mostrado, mas quase nada é sentido. A estética da ostentação tenta mascarar a ética da indiferença — porque quem precisa exibir tanto está, na maioria das vezes, gritando para não ser ignorado. Como se o volume das posses pudesse abafar a ausência de sentido. Como se o brilho do cenário apagasse o escuro de dentro. Mostrar muito não preenche o que falta — apenas disfarça o que sobra de vazio. E esse vazio, por mais que se tente decorá-lo com luxo, continua ecoando. É o eco do que não se viveu de verdade, do que foi editado demais, ensaiado demais, comprado demais — e sentido de menos.
Claro que o argumento vem embalado no celofane da autoajuda corporativa: “Cada um gasta como quiser.” E é verdade — até onde a conta fecha e a consciência dorme. A liberdade virou o último refúgio dos endinheirados, escudo moral de quem prefere ignorar o contexto pra proteger o conforto. Mas como dizia minha avó — mulher de chinelo gasto, panela de ferro e sabedoria que nunca precisou de MBA — “Pode tudo, mas nem tudo precisa ser gritado no megafone.” Especialmente num país onde tem criança que brinca de vender bala no sinal, e o almoço de muitos é decidido pela sorte de um semáforo fechado.
E então, para dourar o exagero, surge a cartada racial: “Se fosse branco, ninguém comentava.” Pode ser. O racismo, esse vigilante seletivo, realmente aplica multas diferentes pra corpos diferentes. Mas sejamos honestos: ostentar diante de um abismo social continua sendo um chute no estômago vazio — independente da cor de quem chuta.
Quer ostentar? Vá em frente. Manda revestir o elevador com couro de crocodilo vegano. Usa paletó pra passear com o cachorro. Faz cascata de chocolate no lavabo. Mas faz calado. Transformar luxo em palanque é como colocar caixa de som em velório: ninguém pediu e todo mundo sai incomodado. Bourdieu, que nunca foi ao Copacabana Palace nem precisou ver story de brunch, já sabia: o gosto é trincheira de classe. E ostentar é jogar granada estética pra lembrar o tempo todo a quem não tem — que não pertence. Não é sobre ter, é sobre deixar claro quem não vai ter. E, por favor, não me venham com a falácia de que ostentação inspira. Inspira o quê? O sonho ou a frustração? O empreendedorismo ou a fatura parcelada em 18 vezes? No fundo, ostentar é como usar salto agulha no parquinho: ninguém proíbe, mas todo mundo torce o nariz — e espera a queda.
Quer mesmo ser elegante? Então seja presença leve, gesto gentil, silêncio que escuta. Porque elegância, no fim das contas, não está no que se tem — mas no que se oferece sem alarde. É quando a fartura não vira espetáculo, mas partilha. Quando o brilho não cega, mas ilumina.Porque, veja bem: luxo compra coisas. Elegância constrói vínculos. Luxo acena de longe. Elegância senta junto.
E se for pra inspirar, que seja pelo afeto, não pela vitrine. Que seja pela forma como se trata o outro — e não pelo quanto se pode gastar com o próprio reflexo.
No mais, ostentar é fácil. Difícil mesmo é ser relevante sem ser barulhento.